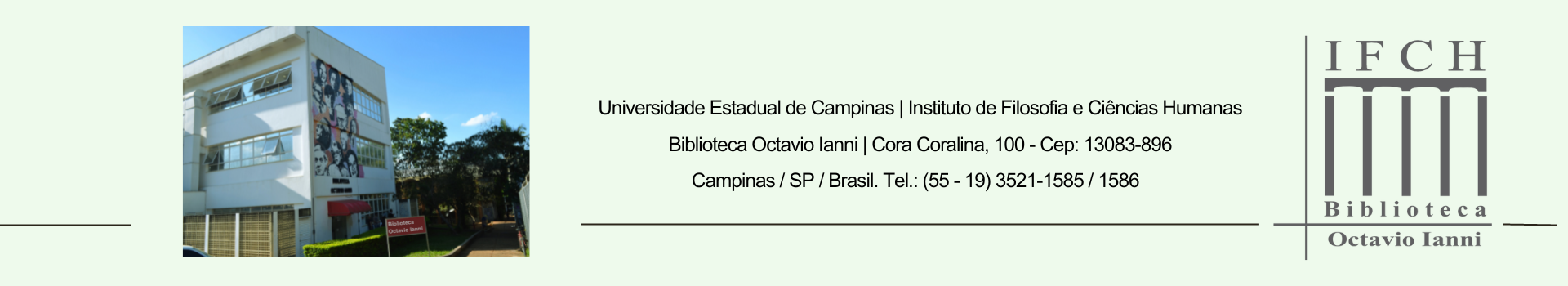DE ALGUMAS ESTRUTURAS QUE CONECTAM
Etienne Samain1
Neste memorial, procuro reunir algumas lembranças, vestígios, balizas, alguns segredos e outros fatos que ajudarão o leitor a me conhecer ou, até mesmo, a me imaginar.
Origem e formação
Nascer significa sempre entrar numa cultura que te precede e que te moldará. Nasci na Bélgica, isto é, num país 270 vezes menor que o Brasil, hoje com 10 milhões de habitantes e sede da Comunidade Europeia. Um país com duas "tribos": ao norte os flamengos (que falam a doce língua flamenga, forma medieval do alemão atual) e ao sul os valões (que falam a língua francesa). Ambas tribos continuam se digladiando por questões fundamentalmente culturais, econômicas também. Nasci pouco antes da declaração da segunda guerra mundial num lugarejo formado por minas de carvão, cavadas por mineiros que, nelas, "viviam" a 1600 metros de profundidade. Mineiros de olhos azuis, com silicose nos pulmões. Eis o que era parte do meu horizonte, com as chaminés de uma pesada indústria metalúrgica e essas pequenas montanhas de pó de carvão, amontoamentos de escórias que chamávamos os terrils.
Meu pai era o mais velho das 10 crianças que meus avós plantaram neste mundo. Minha mãe, por sua vez, era a primogênita de um cortejo de cinco belas mulheres que meus avós maternos deixaram na campanha, aberta e cheirosa, localizada nos limites geográficos (Ellezelles) das duas tribos as quais já me referi. Rara distinção do céu, o fato de ter nascido na terra do carvão e na terra do trigo, de ter sido a invenção desejada por meus pais para os quais 'A união faz a força', emblema do Reinado da Bélgica. Assim sendo, não podia emergir senão sob o signo da balança, em um 18 de outubro de 1938, na companhia de uma irmã gêmea, Christiane.
Minha mãe ensinava numa escola normal quando se casou com meu pai, que acabava de retomar os escombros daquilo que tinha sido uma "Imprensa, Litografia, Encadernação, Trabalhos de Estampa", isto é, o ateliê de meu avô, genial bricoleur, músico e poeta de quem muito gostei. Meu pai, editor, e minha mãe, com sua esplêndida caligrafia, me farão entrar no mundo das letras, numa cultura predominantemente marcada pela lógica da escrita.
De 1950 a 1956, realizei, deste modo, meus estudos secundários: um ciclo de seis anos de Humanidades greco-latinas. A língua grega, até hoje, continua exercendo em mim uma verdadeira sedução por causa de suas raízes presentes nas muitas palavras que usamos a cada dia, de seu canto e de suas melodias. As humanidades greco-latinas me legaram também uma forma de pensar, essa espécie de ginástica cerebral que se alimentava, então, dos repetitivos trabalhos: de tema/versão, versão/tema (ora em língua latina, ora em grega) e que, hoje, se traduz por essa necessidade sistemática de passar da síntese à análise e da análise à síntese.
Devo a esses anos de juventude minha paixão pela leitura e pela composição escrita. Lia-se bastante e aprendia-se a ler os poetas, os dramaturgos, os romancistas. A literatura, de modo geral, me encantava. Alguns livros me marcaram singularmente: A Metamorfose de Franz Kafka, A Peste e, mais ainda, O Estrangeiro de Albert Camus.
No término desse ciclo de seis anos de humanidades, me encontrava numa encruzilhada: realizar Licenciaturas Românicas na Universidade de Lovaina, o que me recomendavam, em especial, os meus pais, ou responder a um outro engajamento, que a minha opção em direção ao sacerdócio reclamava de modo um tanto incondicional. Entrei, em setembro de 1956, com quase 18 anos de idade, no Seminário menor de Bonne-Esperance (Boa-Esperança), recebendo ali uma primeira formação filosófica.
Em setembro de 1958, ano da exposição universal de Bruxelas, iniciava, em Tournai, um segundo ciclo de estudos: quatro anos de Teologia. Uma formação essencialmente intelectual, espiritual e pastoral que, ao término do terceiro ano, isto é, a partir de outubro de 1961, devia tomar um rumo complementar e novo. Os meus superiores me tinham designado para iniciar, na Universidade de Lovaina, um doutorado em Ciências Teológicas e Religiosas.
"Ser enviado a Lovaina" representava, na época, um privilégio e o espaço de uma emancipação assegurada. Significava, em 1961, pisar sobre toda uma história (a Universidade foi fundada em 1425) e, ao mesmo tempo, encontrar-se no coração de uma história que se fazia viva e intensa. Explico-me.
Lovaina dos anos de 1960 tinha-se tornando o terreno agitado, fecundo e criativo de dois eventos históricos.
O primeiro, de cunho universal, foi o Concílio de Vaticano 2, que João XXIII tinha aberto em outubro de 1962, e devia se encerrar, três anos depois. Em Lovaina, eu residia no Colégio do Espírito Santo (Heilige Geest College na língua flamenga) com alguns duzentos outros sacerdotes vindos dos quatro cantos do mundo para ali estudar. Deles (os sacerdotes francofones e estrangeiros), era o "regente", isto é, o interlocutor e o amigo responsável, um encargo que me dava o privilégio de conhecer de perto os convidados que, ali, se hospedavam. Placa giratória deste movimento de aggiornamento profundo dos ensinamentos, da disciplina e da organização da Igreja católica, o Colégio era o palco sempre efervescente da presença de teólogos e de bispos do mundo inteiro que, nele, se revezavam. Foi, na época, que encontrei e dei, aliás, os meus sapatos ao então arcebispo de Cracóvia, Karol Vojtila que, sete anos mais tarde, se tornava o Papa João Paulo 2 [Sobre o assunto, ‘remeto à precisa crônica que Eustáquio Gomes fez, anos depois, e se encontra no Google sob o título “Os sapatos do Etienne"].
O segundo evento que sacudia a Lovaina da época era de caráter nacional e de dimensões político-culturais. Cravada desde séculos na região flamenga do país, a Universidade (cada vez mais cosmopolita) de Lovaina era o alvo predileto de uma reivindicação secular por parte da comunidade flamenga, a saber, o reconhecimento oficial da sua língua e da sua cultura. No decorrer dos anos de 1960, a presença de francofones (e estrangeiros) em território flamengo era ressentida como uma verdadeira provocação e ameaça cultural.
Além dos gritos de guerra e dos paralelepípedos que voavam pelas ruas no período 1961-65, faltavam poucos anos ainda para que a Câmara dos Representantes obrigasse, em janeiro de 1968, a secção francofone da Universidade Católica de Lovaina a deixar a terra flamenga. Ao lado da secular Katholieke Vlaams Universiteit, devia nascer, em território francofone, a atual Louvain-La-Neuve (Lovaina-a-Nova).
Eis, em largas pinceladas, o contexto dentro do qual empreendia uma dupla formação (Licenciatura em Filologia Bíblica e Doutorado em Teologia). De um lado, a aprendizagem de línguas bíblicas: o grego pós-clássico, a língua hebraica e a língua aramaica; do outro, a aprendizagem da exegese bíblica do Novo Testamento (em especial a dupla obra de São Lucas: o Evangelho de Lucas e o Livro dos Atos dos Apóstolos). Para deixar um pouco de suspense, diria que a exegese é uma espécie de cirurgia de textos oriundos de simples narrativas, de simples ditos. Com poucas palavras, um questionamento que diz respeito e remete aos suportes da comunicação e à variedade de suas lógicas operacionais. Espero poder me explicar mais adiante.
Da minha vinda no Brasil
Tinha quase 27 anos de idade quando, já ordenado sacerdote, deixava Lovaina e que meu bispo, Charles-Marie Himmer, me nomeava vigário, numa zona operária e industrial (metalurgia pesada e minas de carvão) da região de Charleroi, exatamente na cidade de Châtelineau. Uma comuna de aproximadamente 35.000 habitantes que, na época, incorporava, não sem preconceitos, um contingente de população "estrangeira" importante (italianos em particular, mas também argelinos e turcos). Nomeado para "cuidar" de um bairro etiquetado por meus superiores como sendo difícil e "vermelho", isto é, na linguagem da época, comunista puro-sangue, realizei no meio deles a minha primeira imersão concreta na vida e Châtelineau foi, efetivamente, minha segunda universidade.
Passei três anos importantes neste mundo de pessoas que não cultuavam necessariamente os livros, mas uma palavra humana e um realismo generoso, um bom senso e uma verdadeira sabedoria.
Com eles...viajava nos entornos e contornos da minha fé. Era o tempo dos hippies, do LSD e de Timothy Leary', promotor de uma contracultura, dos Beatles, de Joan Baez e de Bob Dylan, de Sartre, de Simone de Beauvoir, de Françoise Sagan, de Moustaki, de Brel e de Brassens. Em Paris, anunciava-se a primavera de 1968: "Sous les pavés, la plage" ["Debaixo dos paralelepípedos, a praia"], e, no Brasil, chegava o AI-5.
Essa revolução cultural devia se espalhar, sem outro mistério, pelas praças da Europa. Pessoalmente, creio tê-la ressentida pela primeira vez, quando, nos meados de fevereiro de 1969, nomeado Professor no Grande Seminário de Tournai, entrava no recinto (isto é, na área cercada) deste imponente edifício religioso secular. Nevava. O céu estava cinza e as nuvens, neste dia, pairavam, baixas e pesadas. Chegava, no entanto, com muita confiança e com muita disposição.
Todos os meus colegas sacerdotes do Seminário foram pessoas extraordinárias. Tanto eles quanto eu, vivíamos, no entanto, presos e submissos a estruturas religiosas inequívocas, poderosíssimas e unívocas. Estruturas definidas por dogmas, por rituais, por regras, pela infalibilidade do papa, pela Cúria Romana... em nome de Deus.
Minhas fundações começavam a se abalar ou, melhor dizendo, eu precisava respirar outros ares. Sentia-me sufocado.
Era início de 1971, tinha apostado comigo que iria, no decorrer do ano, em busca daquilo que procurava como tantos outros: um outro modo de poder respirar humanamente. Nos meados de julho, iniciava uma viagem de dois meses na América do Sul o que devia me permitir conhecer pela primeira vez, embora fragmentariamente, a Argentina (Buenos Aires e Córdoba), o Chile de Allende (Santiago do Chile, Concepción e Antofagasta) e, sobretudo, o Brasil. Uma longa peregrinação pelo Brasil que começou no Rio de Janeiro para subir lentamente em direção às cidades de Salvador, Aracaju, Recife, Natal, Fortaleza, Belém; Brasília e São Paulo.
Tinha, na Bélgica, preparado essa viagem durante muito tempo, organizando os encontros futuros. Dou-me conta, hoje, todavia, que as minhas perspectivas e expectativas permaneciam ainda muito vinculadas aos "problemas" (do mundo) vistos através da Igreja, isto é, notadamente, uma certa representação que nós fazíamos, na Europa desta época, da ditadura militar. Assim sendo, passava de um seminário a outro, de uma favela à outra, de sacerdotes em sacerdotes, de pastores a bispos: Dom Helder Câmara [Recife], Dom Antônio Fragoso [Crateús-Fortaleza], Dom José Delgado [Fortaleza], Dom Jayme [Belém], Dom Eugênio de Araújo Salles [Salvador da Bahia e, logo depois, Rio de Janeiro].
Sobre esta viagem, lembro-me de ter, muitas vezes, realçado valores que, então, tinham me impressionado:
1) a prioridade dada às pessoas e não às coisas; 2) um tempo de viver e não de "correr", como já se fazia na Europa; 3) uma beleza das pessoas, essa enorme generosidade e capacidade de acolhimento; essa espontaneidade, dignidade e alegria de viver; 4) a luminosidade dos olhares. Talvez fosse uma visão um tanto idílica ou mitificada. Resta que numa época de efetiva repressão (tanto aqui no Brasil, como em locais que frequentava na Bélgica), o slogan de 1968, "Sous les pavés, la plage", tinha me reanimado. Descobria que, quando a liberdade fica sob vigilância, ela torna-se particularmente criativa e fecunda.
Apesar dos 10.000 quilômetros que separavam o Brasil da Bélgica, a minha viagem tinha sido muito curta. Voltava, todavia, com a certeza de que nunca mais seria o mesmo. Sem saber ainda plenamente, tinha reorganizado as linhas do meu horizonte, alargando longitudes e latitudes. Tinha entrado, com o Brasil, numa dinâmica do provisório.
Voltava ao Seminário de Tournai sob o olhar amistoso, condescendente e inquieto dos meus colegas. Não foram curiosos. Não me assediaram com suas perguntas. A tática fraterna foi simples e cruel: o silêncio. Retomei o ritmo dos meses anteriores. Era, ao mesmo tempo, menos rebelde e mais firme com tudo o que me circundava.
E logo veio o que esperava. Nos bastidores do sínodo realizado em Roma, em novembro de 1971, meu bispo e o cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles iam se encontrar. O chanceler da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (nas mãos dos jesuítas), estava à procura de um "exegeta". Nada melhor poderia cair do céu e tentei não retardar essa negociação, isto é, concretizar "a minha disponibilidade, por um período de cinco anos, a serviço da diocese do Rio de Janeiro".
Chegava ao Brasil no dia 03 de março de 1973, munido, nesta época da repressão, de um "visto permanente". Coisa rara que somente um cardeal do porte de Dom Eugênio Salles poderia ter conseguido em função, precisamente, de seu poder. Dois jesuítas me aguardavam no minúsculo aeroporto do Galeão, na época. Debaixo de um calor de rachar, me deixaram no Seminário Episcopal do Rio de Janeiro, na Avenida Paulo de Frontim. Ocupava o quarto reservado ao Cardeal, quando visitava o seu rebanho. Um quarto limpo, ventilado, sóbrio também. Na biblioteca, uma única obra presente: os três volumes, em língua francesa, das Mémoires de Casanova. Devia ter sido um presente ou um esquecimento. No dia seguinte, começava o Carnaval do Rio de Janeiro.
Essa chegada ao Brasil foi a grande chance da minha vida. Mais que de uma transição, tratou-se de um verdadeiro ritual de passagem, uma renascença múltipla, um novo batismo. Este renascimento dirá respeito à passagem de um continente para outro, isto é, de uma cultura em direção a uma outra. Dirá respeito à passagem do sacerdócio para a minha "redução ao estado leigo". Significará, ainda,
a mudança de um ramo do conhecimento para um outro, complementar, ou seja, da exegese do Novo Testamento para a Antropologia Social e a análise dos mitos indígenas de língua tupi. Representará a minha migração do celibato para o casamento. Essa sucessão de fatos e de episódios explicará, penso, as razões profundas das viagens iniciáticas que empreenderei junto aos índios Kamayurá (1977-78) e, mais tarde, em meio aos Urubu-Ka´apor (1980-81). Era a minha tentativa de retorno às origens. Ao chegar ao Brasil, despia-me de parte da minha bagagem "civilizadora" para descobrir e mergulhar num mundo "culturalmente selvagem".
De março de 1973 ao fim de junho de 1974, ocupei a cátedra de Exegese do Novo Testamento na PUC-Rio. Vivia no "Santo dos Santos" da Universidade (décimo primeiro andar), próximo às portas do céu. Entre os colegas professores, guardei a lembrança de Padre Antonius Benkö, húngaro de nascimento, que coordenava o Serviço de Psicologia Aplicada da PUC-Rio. Tinha sido o principal articulador da minha entrada na Universidade. Menciono ainda os Padres Manual Bouzon (Exegese do Antigo Testamento), Karl Josef Romer (Teologia moral), João Batista Líbano (Teologia Fundamental), Alfonso Gárcia Rubio (Liturgia e Teologia Sacramental), Dom João Bosco (Exegese do Novo Testamento). Quanto aos alunos de Graduação e de Pós-Graduação, matriculavam-se, sobretudo seminaristas, mas, na época, também leigos.
No meio deles, vivi momentos extremamente densos de aprendizagem da língua e da realidade brasileira. Quando foi necessário nos separar de vez, pelas razões que já conhecemos e que eles conheciam, não tínhamos outras coisas a nos oferecer senão a estima, um reconhecimento mútuo e um futuro que se desenhava.
O que me levou a realizar um mestrado em Antropologia Social no Museu nacional já tendo outro diploma? Quais motivos me levaram a estudar a temática indígena Brasil e por que o estudo dos mitos?
Pois é! Esse ritual de passagem foi, também, de alto custo humano. Em meados de 1974, voltava à estaca zero. Profissionalmente falando, o exegeta que "era" não valia mais nada. Estava proibido, de um dia para outro, de ensinar exegese, filosofia, teologia, nos recintos eclesiásticos. A tentação, todavia, de permanecer nesses circuitos (todos não eram evidentemente sectários, nem cegos) permanecia forte. Felizmente, recebi o apoio, discreto e lúcido da minha esposa e de amigos. Deste modo, pensei numa formação de médico-cirurgião antes de optar por uma formação em antropologia social. Esse campo de novos conhecimentos ia se revelar singular tanto como complementar àquele que tinha recebido em Lovaina, dez anos antes.
Para entrar no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) do Museu Nacional - UFRJ, alguns passos e etapas indispensáveis haviam, todavia, de se concretizar: alguns de ordem administrativa e legal, outros simplesmente acasos e reflexos da própria vida.
Os primeiros significaram tanto a revalidação do meu diploma de conclusão do Segundo Grau pelo Conselho Estadual de Educação, quanto a realização (1974-1976) de Licenciatura em Filosofia na PUC-Rio, por onde retornava como aluno.
Os segundos tiveram um sabor de ordem mais afetiva. Foram felizes acasos como, por exemplo, o encontro que tive, em março de 1975, no Museu Nacional, com o Professor Roberto Da Matta. Creio poder afirmar, hoje, que Roberto Da Matta era (e permanece) um desses antropólogos particularmente sensíveis a assuntos religiosos. Penso, deste modo, que o meu passado e a minha formação não lhe deviam ser indiferentes. Nunca tivemos a oportunidade de discutir realmente desses assuntos. Guardo, no entanto, o exemplar (em língua francesa) do livro de Marcel Mauss, Sociologie et Anthropologie, précédé d'une Introduction à 1´oeuvre de Marcel Mauss par Claude Lévi-Strauss, que ele me ofereceu pouco depois de meu ingresso oficial no Mestrado, em março de 1976. Além do fato de que ambos os autores se tornariam fundamentais em meus trabalhos antropológicos futuros, havia na margem do livro uma dedicatória de Da Matta "Ao Etienne, para iniciar uma linhagem. Roberto, maio de 1976".
O Curso de Pós-Graduação em Antropologia Social foi o primeiro do gênero a ser implantado no Brasil, em 1968. Nele, viria a conhecer e a conviver com: Eduardo Viveiros de Castro, Gilberto Velho, Giralda Seyferth, João Pacheco de Oliveira, Luís Antônio Machado da Silva, Luiz de Castro Faria, Lygia Sigaud, Moacir Palmeira, Otávio Velho, Roberto da Matta, Yonne Leite, e, sobretudo, Anthony Seeger que escolherei como orientador. Anthony Seeger (sobrinho do músico americano Pete Seeger) era antropólogo e trabalhava no meio dos índios Suyá do Baixo Xingu. Devia me conhecer suficientemente. Não ignorava o meu passado exegético e, ambos, partilhávamos de uma mesma convicção: não existia diferença de natureza entre "mitos bíblicos" e "mitos indígenas". "Ressuscitava", desta forma, enquanto exegeta, quando, por sua vez, meu orientador me indicava novos caminhos críticos para entender essas narrativas ou, melhor dizendo, essas sofisticadas peças da intelectualidade "selvagem": Bronislaw Malinowski, Edmund Leach, Terence Turner, mas, também (não por acaso), Claude Lévi-Strauss e Jack Goody.
Sabe-se que Lévi-Strauss tinha publicado, em 1962, O pensamento selvagem, "pausa" que se dava antes do fabuloso empreendimento e da publicação dos quatro fortes volumes das Mitológicas. Sabemos que, 15 anos mais tarde, precisamente no ano de 1977 (ano da minha primeira estadia no meio dos índios Kamayurá), Jack Goody terminava um livro, intitulado, não por acaso, A Domesticação do pensamento selvagem, abrindo novos horizontes para esses instigantes debates, de um lado, sobre "os níveis estratégicos onde a natureza deixa-se atacar pelo conhecimento científico [...] o primeiro (nível) aproximadamente ajustado ao da percepção e da imaginação' (como dirá Claude Lévi-Strauss] e, por outro lado, sobre os "estilos cognitivos" que as "tecnologias do intelecto" proporcionam ao mesmo ser humano [como completará Jack Goody, falando dos meios e suportes da comunicação humana].
Seria, porventura, necessário lembrar, neste momento, que tinha nascido em meio aos livros e numa cultura da escrita, que, chegando ao Brasil, em 1973, defrontava-me com uma cultura predominantemente marcada pela fala e que, neste ano de 1977, no meio dos índios Kamayurá do Alto Xingu, mergulhava na oralidade pura e simples. Com poucas palavras, penso poder dizer hoje que essas vivências comunicacionais diversas formaram a trama da minha existência e o pano de fundo das minhas inquietações e reflexões acadêmicas: "Quais são as estruturas que conectam os seres vivos?" (Gregory Bateson)
Poderia tecer, ainda, um sem número de reflexões em torno dessa formação no Museu Nacional que era, também, uma grande família. Para ser breve, diria que as disciplinas e trabalhos que ali realizei evidenciam dois eixos de interesse que me acompanham desde então. De um lado, uma opção pelo estudo das "sociedades indígenas" brasileiras e, nelas, um interesse singular pela decodificação e interpretação dos mitos de língua tupi". De outro lado, uma atenção sensível à constituição de uma "antropologia cognitiva” a ['Antropologia da Comunicação', como se diria, hoje] e, paralelamente, um mergulho profundo nos trabalhos de Bronislaw Malinowski e, sobremaneira, de Gregory Bateson, permitiram tanto pensar nas potencialidades de uma antropologia visual quanto nos fundamentos epistemológicos e comunicacionais de todo e qualquer conhecimento.
Volto ao meu assunto. Estava no Rio de Janeiro, no Museu Nacional, no final do ano de 1977. Voltava do Alto Xingu e não tinha conseguido engordar. No decorrer dos três últimos anos, Godelieve, minha esposa, e eu, vivíamos em Laranjeiras num apartamento que nos tinha "reservado" - quando tudo nos faltava - uma russa, mãe de um pintor, Dona Nadedja (que significa "Esperança"). Godelieve, enfermeira de profissão, tinha se deslocado, nesse intervalo, do posto de saúde do INPS da Praça Mauá para o encargo, menos exaustivo, de adida cultural no Consulado Geral da Bélgica. Para fechar a conta no final do mês, eu dava alguns cursos diurnos de religião no Colégio Santo Inácio (1976-77) e outros, noturnos, de "Metodologia Científica", na Associação de Ensino Superior São Judas Tadeu. Faculdade de Educação Letras, Encantado - RJ (1974-77). Foi, nessa época, que escrevi, para a REB, alguns importantes artigos de exegese sobre a teologia da libertação a convite de Leonardo Boff. Começava a me aculturar verdadeiramente.
Foi, no decorrer desses últimos meses de 1977, que um segurança do Museu Nacional me permitiu ver, no final de um dia de aula, - levantando um pesado vidro e uma leve máscara - o rosto ressecado da múmia de uma mulher egípcia. Ele tremia, eu também. Descobri logo depois, fixado num quadro de aviso do mesmo Museu, um anúncio que dizia algo como: "Precisa-se de mestres e doutores para implantar, em Natal - RN, um Mestrado em Antropologia Social". Pulei de alegria. Godelieve tinha trabalhado no Nordeste (Fortaleza). Podíamos, enfim, retornar para aquele pedaço da terra brasileira que tinha, também, me permitido renascer. Não tinha ainda elaborado a minha dissertação de Mestrado.
Uma experiência acadêmica no Nordeste
Mais de quarenta anos se passaram. Revejo claramente nossa subida do Rio de Janeiro provida pelo ainda corajoso fusquinha de cor azul clara. Posso também seguir nossa lenta progressão até cruzar a divisa da Paraíba com o Estado do Rio Grande do Norte. Lá, uma breve parada simbólica e, logo depois, a nossa chegada no Hotel Tirol. Era meado do mês de julho de 1978. Guardo do Rio Grande do Norte a lembrança feliz do mar, do horizonte, da clareza do céu, das dunas de areia e das praias (Genipabu, Pirangi, Ponta Negra etc.). O país rio-grandense ou potiguar era um cantinho do paraíso.
A região de Natal hasteava um florão singular: o de possuir o “maior cajuzeiro do mundo” junto à praia de Pirangi. Para conhecê-lo, passava-se necessariamente pela “Barreira do Inferno” (a então base brasileira de lançamento de foguetes espaciais), no município de Parnamirim, que tinha sido, durante a II Guerra Mundial, uma base logística da aviação militar americana.
Quem evocava o nome da cidade de Natal, pensava logo na fortaleza dos "Reis Magos", construída em 1598 após a expulsão dos franceses. Pensava ainda no grande Luís de Câmara Cascudo, o genial conhecedor da cultura, nordestina em especial, e, ainda, no sedutor canto do coqueiro Chico Antônio, ambos amigos de Mario de Andrade.
O Rio Grande do Norte permanecia famoso, também, por ser a terra dos "Coronéis", dos feudos políticos de algumas grandes famílias como a dos Maias e dos Alves. Eram verdadeiros "clãs" ao lado da outra famosa "dinastia" dos Rosados, que reinava na região semiárida de Mossoró. Reflexo da antiga colonização francesa, os 21 Rosados que ali se sucederam, levavam, todos, nomes franceses: "Un-Rosado; Deux-Rosado; Trois-rosado [...] Quinze-Rosado [...] Vingt-et-un-Rosado.
Na época, Natal significava - para o turista - hospedar-se no Hotel Ducal, o único hotel "chique" da capital. Significava para outros - apreciadores da gastronomia - nunca desconhecer a famosa lagosta do restaurante Xiquexique e o seu pianista desafinado e generoso. Exigia-se reservar, com antecedência, uma mesa na taberna do Lyra, onde podia se deliciar com carne de sol, uma manteiga de garrafa e um feijão verde.
A Universidade Federal do Rio Grande de Norte (UFRN), até então espalhada pela cidade com algumas de suas primeiras unidades (Odontologia, Direito, Medicina, Engenharia...) estava, nos anos de 1970, centralizando-se. Iniciava-se a construção do seu campus atual, com sua praça cívica em forma de arena, sua reitoria com bela fachada de tipo asteca que dominava um tranquilo espelho d’água, seu Centro de Convivência e, nos arredores, os Centros de Ensino entre os quais o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - CCHLA (conhecido como "Azulão" por causa da cor do prédio).
Sob a impulsão do dinâmico Reitor Domingos Gomes de Lima, do Diretor do Centro, Jardelino de Lucena Filho (que tinha estudado Sociologia em Lovaina, com sua esposa Renira), dos pesquisadores e antropólogos Nássaro e Elisabeth Nasser, pretendia-se implantar, em 1978, um Mestrado em Antropologia Social no âmbito do Departamento de Estudos Sociais.
Os contatos e convites tinham sido feitos com tal presteza que, nos meados do mesmo ano, ao lado de colegas potiguares já em função (muitos deles sociólogos: Antônio Pinheiro de Araújo, Augusto Carlos Gárcia de Viveiros, Cléa B. Melo Centeno, Francisco das Chagas Pereira Geraldo Magelão, Itamar de Souza, Jacira Safieh, Jardelino de Lucena Filho, Joanilson de Paula Rego, Renira Mota de Lucena, entre outros), juntavam-se outros docentes (a maioria antropólogos de formação, sendo seis deles "Professores Visitantes": Ângela Tygel, Anita de Queiroz Monteiro, Antônio Marquês de Carvalho, Elisabeth Nasser, Kabengele Munanga, Madeleine Mitchom, Maria da Conceição de Almeida Moura, Nássaro Nasser, Roberto Ricardo Ringuelet, Tom Oliver Miller Jr., e eu).
Logo na minha chegada, em agosto de 1978, fui designado oficialmente como Coordenador da implantação do Curso de Mestrado em Antropologia Social. Em fevereiro de 1979, remetia a segunda versão do Anteprojeto de Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social de acordo com as diretivas e orientações da Capes. O curso, calcado nos moldes gerais daquilo que tinha vivenciado no Museu Nacional, iniciava suas atividades no mês seguinte. Honrava, continuo pensando, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O Curso, por sua vez, oferecia-se como uma opção sólida de formação aos estudos antropológicos para a região nordeste. A alegria era profunda.
Não gosto muito, desta maneira, de evocar outros acontecimentos que, logo, acompanharam esse nascimento. Colegas da sociologia credenciaram-se "espontaneamente" e extraoficialmente. Chegaram a transformar o Programa de "Mestrado em Antropologia Social em "Mestrado em Ciências Sociais" (com duas "Áreas de Concentração: Antropologia e Sociologia"). Tal "Programa" continuou existindo em níveis de Mestrado e de Doutorado mesmo se, desde 2004, um outro foi lançado. Ironia ou não, voltou a se chamar "Programa Pós-Graduação em Antropologia Social", a exata denominação daquilo que tinha sido implantado 20 anos antes.
Não posso dispensar aqui um dos momentos mágicos dessa docência quando, ao término segundo semestre letivo de 1979, acabávamos, eu e quatro mestrandos (guardo os nomes deles: Nádia Pires, Sérgio Ferretti, Mundicarmo Feretti e Elisete Zanlorenzi), de fechar a Disciplina de Antropologia II e o seu exigente programa (leituras e discussão de monografias Malinowski, Radcliffe-Brown, Evans-Pritchard, Leach, Bateson, Lévi-Strauss). Neste dia de festa (um 12 de novembro de 1979), escrevíamos a Gregory Bateson nesses termos:
"Caro Professor e Amigo, [...] O que lhe dizer? Penamos juntos e temos apreendido; descobrimos também que podia significar a probidade intelectual de um pesquisador, sua modéstia tanto quanto sua abertura; sua paixão humana e sua seriedade. [...] acontece que, para além do horizonte que nos abriu intelectualmente, o Senhor nos deixa, ao anoitecer de sua existência, uma lição de ternura e de veracidade humana [...]. É provável, também, (que estejamos precisando na nossa caminhada e nesses tempos que aqui vivemos), de uma espécie de luz interior, de uma presença e de uma sabedoria corajosa [...]. O que nos une não é o tempo, nem o espaço e, sim, o caminho".
Em janeiro de 1980, nos chegou uma resposta de Gregory Bateson (1904-†julho de 1980): uma carta de 20 linhas datilografadas sobre um papel de cor bege clara e o exemplar da sua última obra, Mind and Nature. A Necessary Unity, um livro que representa seu testamento e a síntese de seu pensamento.
Talvez não devesse ter emprestado essa carta a uma pessoa que nunca a devolveu. Pouco importa, já que guardei a memória precisa de uma frase: "Eu me maravilho com o fato de que, ainda hoje, existem pessoas que se interessam por um livro [Naven] que escrevi há quarenta anos, e possam lê-lo num outro país [o Brasil] e numa outra língua [francesa].
Na época, não conhecia ainda o conceito-chave que, no entanto, acompanha e perpassa, também, os trinta últimos anos da reflexão de Bateson, quando, como biólogo e antropólogo, ele se colocava a pensar as questões da comunicação humana nesses termos: “Procurei sempre a estrutura que une todos os seres vivos (The pattern which connects all the living creatures)”.
Não podia imaginar que a presença de Bateson ia se tornar tão imperativa em minha própria busca intelectual futura.
Não esperava receber, também, logo depois, no dia 05 de janeiro do ano de 1980, o ultimato do Museu Nacional (assinado por Gilberto Velho, então Coordenador do PPGAS) cobrando com razão a entrega da dissertação de Mestrado até o dia 15 de junho do mesmo ano. Defendi a dissertação simbolicamente intitulada De um caminho para outro. Mitos e aspectos da Realidade Social dos Índios Kamayurá (Alto Xingu), - uma clara alusão à passagem da Teologia para a Antropologia, que acabava de se firmar - no dia 15 de setembro de 1980, tendo como protagonistas e amigos de Banca de Defesa os professores Anthony Seeger, Roberto Da Matta e Pedro Agostinho.
Termino. Estou de volta à cidade de Natal. Inicia-se um segundo semestre letivo: o de 1982. Nada, verdadeiramente, tinha mudado na "Cidade do Sol". Natal permanecia uma província brasileira com milhares de igrejinhas. Quem não era de Natal continuava um forasteiro, mesmo tendo nascido no estado vizinho. Em todos os lugares, no entanto, uma afabilidade incontestável e espontânea. Muitas vezes, procurei entender esse regionalismo extremo articulado a uma idiossincrasia de traços, também, nunca banais. Desejava fazer e oferecer muito mais. O medo da sombra e as dores de cotovelo, todavia, imperavam. Três dos "Professores Visitantes", meus colegas e amigos, já tinham deixado o Mestrado "rebatizado", como já se sabe. Pessoalmente, buscava e fomentava ainda, como o tinha feito no decorrer desses anos todos, possíveis laços e intercâmbios com o sul maravilhoso. Nada ou quase nada. Das grandes universidades paulistas em particular, alguns professores apareciam, é verdade, com suas famílias, na época das férias, para presidir uma ou outra defesa de dissertação e, logo, curtir as belas ondas do mar. Sentia-me ilhado e não era o único a sofrer com este isolamento intelectual.
Um ano mais tarde, num ofício dirigido ao Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Genibaldo Barros, o Reitor da Universidade Estadual de Campinas, Professor José Aristodemo Pinotti, solicitava o meu afastamento da UFRN a fim de prestar colaboração ao Instituto de Artes da Unicamp (que estava implantando seu Programa de pós-graduação em Multimeios). Não devia tergiversar muito em termos de resposta e, também, nunca me esquecer dessa terra do Nordeste que me tinha ensinado, pelo menos, a paciência e a generosidade. Chegava a Campinas em agosto de 1984. Entrava na Unicamp como se entra num submarino. O que explica que nela permaneci até além da minha aposentadoria, em outubro de 2008.
Na Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP - Instituto de Artes - Programa de Pós-Graduação em Multimeios (1984-2015)
Tudo que poderei oferecer a seguir está consignado no meu CV [Etienne Ghislain Samain] na Plataforma Lattes. Tentarei aqui tecer e organizar uns comentários em torno de quatro grandes eixos e movimentos sucessivos que, por assim dizer, modularam as minhas atividades de pesquisa no período.
1). Quando entrei no universo dos Multimeios, penetrei numa terra, até certo ponto, virgem, em termos de uma reflexão crítica pessoal. Ainda que gostasse muito da fotografia, encontrava-me, todavia, diante de um "objeto" (uma imagem) complexo que mal conhecia em termos teóricos. Devia deste modo, primeiro, buscar definir e delinear alguns territórios e parâmetros heurísticos amplos em torno deste objeto (tais como:
História da Fotografia; enfoques teóricos em torno da 'natureza', da 'essência', do 'ato' fotográfico, do "signo" fotográfico], para, depois, progressivamente também, considerar a fotografia como uma maneira de ver e de pensar e, consequentemente, apreender o fotográfico como sendo uma denominação de um modo de ser no mundo, como um estado do olhar e do pensamento. Um pensamento particular, já que se constrói a partir de fragmentos, de recortes, de golpes no tempo e no espaço, e que não existe, também, sem as singularidades culturais tanto dos operadores como dos espectadores (Roland Barthes), todos sujeitos sociais.
Tal trajetória partia, assim, do geral para algo mais particular, de uma dimensão objetal da fotografia para a busca de suas modalidades cognitivas - com relação, notadamente, aos outros suportes da comunicação audiovisual. Este trajeto se deixará claramente reconhecer quando, por exemplo, passa-se de um artigo como "A caverna Obscura. Topografias da Fotografia” (1994) a outro mais recente como "Retratos de Velhice: memória e fotografia" (2004)2. Talvez o livro O Fotográfico que publiquei em 19983 represente essa simbiose de interesses e de necessidades complementares. Em sua “Apresentação”, escrevia: “É no horizonte do fotográfico que este livro se abre e permanece aberto até o fim. Ele reúne trabalhos de pesquisadores brasileiros e europeus em torno de quatro temáticas principais. Na primeira ‘Fotografia e suas histórias’ encontrar-se-ão pesquisas tanto relacionadas à história da fotografia quanto outras que procuram mostrar como ela pode ajudar a refazer a história. Numa segunda parte intitulada 'Fotografia e os olhares sobre a cultura', o foco centra-se, preferencialmente, sobre as problemáticas levantadas pela utilização do suporte fotográfico nas ciências humanas, na antropologia visual em especial. Na medida em que o fotográfico é um estado do olhar que, por necessidade, invade outros territórios do saber humano, 'Fotografia e seus tentáculos’ aponta para questionamentos mais específicos (como o 'tempo', o 'acaso’ na fotografia e procura esclarecer algumas de suas interações (com o cinema, a escrita, e outras artes).
A última temática, 'Fotografia, do presente ao futuro' situa, enfim, a fotografia ante os impactos das novas tecnologias e delineia o que ela vem a ser: uma estética da metamorfose".
2). Segundo movimento, aquele que se podia adivinhar e esperar da minha parte: aproximar a Antropologia e a Fotografia. Num artigo de 1987, levantava essa questão: "Por que tantas reservas e até uma verdadeira resistência, por parte da Antropologia Social e dos antropólogos que a fazem, em encarar mais positivamente a Antropologia Visual, outorgando um status científico à pretensão que ela tem de poder, também, observar e investigar, descrever e compreender visualmente os fatos humanos que registrar?" Estou mais inquieto, hoje. Enquanto antropólogo, me preocupa muito a maneira como as ciências sociais que sabem, no entanto, redefinir seus objetos, padecem de cegueira, quando deveriam urgentemente interrogar suas atitudes cognitivas e discursivas face ao real. Será que enxergam a importância, as dimensões, os reflexos e consequências desta revolução cognitiva provocada pelos instrumentos da comunicação que presenciamos? Sobretudo, se reatamos esses questionamentos ao que está no âmago de seus ideais: os homens, as sociedades e as culturas que pretendem entender, conhecer e dar a conhecer? Acrescentaria: homens cujas relações e interações são definidas a partir de novos parâmetros e suportes comunicacionais; sociedades que se organizam e se organizarão em novas dimensões, a partir de novos modelos e de novas estruturas comunicacionais.
A chamada "Antropologia Visual", é verdade, não passa de uma etiqueta e não deveria ter ocasionado tanta perda de tempo por parte de antropólogos e de fotógrafos4 que pensavam, por vezes, ter de reinventar a roda. Pois, não é por acaso que a antropologia (com sua vontade de se tornar ciência) e a fotografia nasceram juntas, em meados do século XIX, numa época de curiosidade exasperada. Se quisermos, deste modo, edificar e organizar uma Antropologia Visual sólida, deveremos, necessária e previamente, fazer a História da Antropologia Visual.
Foi através desta via riquíssima que me aventurei com verdadeiras satisfações intelectuais. Entre os numerosos artigos que dediquei à história da Antropologia Visual e às questões que levantava (remeto de novo ao CV na Plataforma Lattes), alguns guardarão para mim um sabor e uma significação toda especial. Na ordem de publicação, assinalo: "Entre a Arte, a Ciência e o Delírio: a fotografia médica francesa na segunda metade do século XIX" (1993), que me deu muito prazer; o artigo "'Ver' e 'dizer' na tradição etnográfica: Bronislaw Malinowski e a fotografia" (1995), que me ocupou vários meses e dilatou minhas pupilas face à audácia que assumi frente ao pai do funcionalismo. Mais tarde, retomei este assunto em três outras investidas. "Entre a escrita e a imagem. Diálogos com Roberto Cardoso de Oliveira" (2000)5, representa um fecundo exercício de parceria intelectual; "Quando a fotografia (já) fazia os antropólogos sonharem: O jornal La Lumière (1851-1860)" (2001), por sua vez, apresentava-se não apenas como um texto denso e exigente em termos de síntese e de redação, mas também como um campo de problematizações entre vários suportes da comunicação visual: a "escultura" de gesso, o desenho, a fotografia. Enfim, haverá Balinese Character (re) visitado. Uma introdução à obra visual de Gregory Bateson e Margaret Mead (2004)6''. Este último e longo trabalho em torno de uma obra antropológica pioneira no tocante ao uso conjunto texto-imagem, era e permanece, sem dúvida, aquele de que mais precisava para alcançar e chegar a um terceiro momento e movimento: o de um mergulho na obra comunicacional de Gregory Bateson.
3). Este terceiro movimento representa (e representará daqui para frente) uma espécie de síntese daquilo que procurava construir ao longo desses últimos vinte anos. Ela parte de um fato bem banal, tão óbvio que se tem até receio de lembrá-lo: sem a comunicação, não existe vida, não existe conhecimento. Creio que nenhum cientista social (antropólogo, sociólogo, historiador...) contestará o fato de que a comunicação esteja no âmago de seu ofício. Sem a existência dos meios de comunicação - desde os nossos órgãos sensoriais, atravessados ao longo da história pelos dispositivos comunicacionais que são as linguagens e as escritas, até essas mais recentes próteses e máquinas das imagens técnicas (fotografia e cinema), eletrônicas (televisão e vídeo) e informáticas (as imagens digitais e virtuais) - não poderíamos sequer falar de "sociedades", nem de "trocas" (simbólicas ou outras) possíveis entre grupos humanos, menos ainda imaginar a emergência das "culturas" humanas. Sem esses suportes comunicacionais (todos singulares e, ao mesmo tempo, complementares), não teríamos as condições mínimas para poder "pensar" o mundo, "representá-lo", tentar "descrevê-lo” e, até poder esperar nele viver ainda. Sem a comunicação humana, os antropólogos e os sociólogos não existiriam e as ciências sociais não passariam de puras ficções. Em outras palavras: a comunicação está no centro de emergência de todo processo de conhecimento e de quaisquer possíveis relações e interações entre os seres vivos. A comunicação é, deste modo, não apenas o suporte necessário a qualquer eclosão de cultura; ela é, sobretudo, uma constante performance da cultura, sua orquestração sensual e ritual.
Desde a minha estadia em Natal-RN e os cursos de Antropologia Social nos quais Bateson (1904-1980) já estava presente, na ordem do dia e da minha memória, este pensador, sobremaneira quando, distanciando-se aparentemente da antropologia, ele colocava sobre ela o seu olhar mais profundo e múltiplo: o de um biólogo, de um comunicólogo, de um epistemólogo da comunicação e do conhecimento humano. Descobria com Bateson - o paciente inglês - e com os seus amigos de Palo Alto que uma antropologia da comunicação ainda estava por ser feita7.
Novos artigos abrirão, deste modo, horizontes para esse terceiro movimento, entre os quais "Rumo a uma Epistemologia da Comunicação (2001), "Alguns passos em direção a Gregory Bateson" (2004), e, sobretudo, as temáticas de pesquisas desenvolvidas, na época, como bolsista-Produtividade, junto ao CNPq, sob o título "Do 'duplo vínculo' à 'estrutura que liga’ Como Gregory Bateson pode ajudar a refletir a respeito da fala, escrita e imagens, a respeito dos meios de comunicação e do ofício antropológico" (2000-2003) e "Gregory Bateson, Epistemólogo da Comunicação. Por uma antropologia da comunicação" (2003-2006).
4). Devia muito mais ainda ao Gregory Bateson e, notadamente, essa frase singela que abre seu último livro, Mind and Nature. A Necessary Unity (1979): "No decorrer da minha existência, coloquei as descrições de tijolos e de jarras, de bolas de sinuca e de galáxias numa caixinha e ali, deixei-as repousar. Numa outra caixa, coloquei coisas vivas: os caranguejos do mar, os homens, os problemas de beleza e a questão das diferenças. É o conteúdo da segunda caixa que a mim interessa".
Foi a partir deste enunciado que se abriu um quarto movimento, quando, na caixa das coisas vivas, pensei poder colocar - também - as imagens e essa questão complexa: se é verdade que as imagens nos fazem pensar, será que podemos aprofundar esse dado no sentido não tanto de saber "por que" elas nos permitem pensar, e sim "como" nos fazem pensar?
Foi efetivamente a temática central que guiou minhas pesquisas como bolsista CNPQ ao longo dos anos 2007 a 2015: sucessivamente, "O que (como) pensam as imagens? De Gregory Bateson à Aby Warburg"[2007-2010] e "O que (como) pensam as imagens? De Gregory Bateson à Aby Warburg e de Hans Belting à Georges Didi-Huberman” [2010-2015].
Essa aventura culminou na publicação em agosto de 20128 do Como pensam as imagens. Campinas: Editora da Unicamp. Um empreendimento resultante de um rico ciclo de estudos, debates e discussões realizados em fóruns de diversas regiões do país e no exterior (remeto ao meu CV Lattes), os quais possibilitaram o encontro de nove parceiros que não hesitaram em lançar respostas ao desafio de Como pensam as imagens.
A obra que conta com a colaboração de dez autores (brasileiros e europeus) levanta um questionamento plural que deve tanto à Aby Warburg e Gregory Bateson quanto à Georges Didi-Huberman. Trata-se de descobrir que as imagens têm uma vida própria e dialogam entre si. Desvendar, desta forma, não diretamente o que elas pensam, mas como elas pensam e sobremaneira, o que recusam a dizer.
Ronaldo Entler, um dos meus primeiros orientados e, desde então, um amigo excepcional, escreveu este texto de apresentação do livro: "Com um vasto campo de pesquisa dedicado às imagens, elas ainda nos escapam. É que, enquanto buscávamos adequá-la às nossas ciências, essas perambulavam pelo mundo e pela história, e seguiam sua vocação de transformar nossa sensibilidade. A fotografia, em particular, parecia um objeto de estudo exemplar: ao decifrar o sentido dessa técnica, talvez pudéssemos compreender tudo o que ela produz. Mas a imagem mais fixa se mostrou inquieta, a imagem mais racional manifestou seu pathos. Era hora de adotar uma atitude menos arrogante. De seguir pensando as imagens, sem perder de vista o pensamento que elas próprias articulam. De descobrir que as imagens são humanas não porque colocamos nelas uma assinatura, mas porque são livres para operar significações que nos dizem respeito e que não estão sob nosso alcance, porque pertencem a outros lugares. Atentas a isso, as pesquisas de Etienne Samain não o conduziram a uma conclusão, mas a essa pergunta lançada tantas vezes em suas aulas, suas palestras, e que sempre soou perturbadora: o que pensam, como pensam as imagens? A questão - adaptada de Godard e alimentada pela leitura de Gregory Bateson, de Aby Warburg e seu exegeta Georges Didi-Huberman - foi agora compartilhada com outros dez pesquisadores. Este livro assume a forma de um debate e, como tal, não pretende alcançar respostas conclusivas ou sequer solidárias. Trata-se, antes, de checar as várias direções que se pode tomar, também os tropeços e os desvios que se deve enfrentar, quando se pensa a fotografia em diálogo com o pensamento mais amplo das imagens".
Não procurarei cavar mais na minha memória. Somente rememorar e partilhar essa outra confidência de Gregory Bateson:
"Não sou daqueles que mergulham no trabalho sem esperar nenhum reconhecimento, sucesso ou aprovação vinda de fora; sempre precisei saber que os outros acreditavam em meu trabalho, em seu sentido e em seu futuro. Mas, em contrapartida, fiquei muitas vezes impressionado com a confiança que pessoas depositavam em mim quando eu mesmo tinha tão pouca. Vez ou outra, tentei me livrar da responsabilidade que esta confiança total fazia pesar sobre mim. E dizia a mim mesmo: 'Afinal, não sabem nada do que eu faço. Como poderiam eles saber (sobre mim) o que eu mesmo ignoro'?".
Campinas, dezembro de 2018. Etienne Samain
___________
Notas:
* Este texto foi retirado do Processo de Doação do Acervo para a Biblioteca Octavio Ianni. Referência Bibliográfica SAMAIN, Etienne. Relatos sobre a formação da coleção. In.: UNIVERSIDADE DE CAMPINAS. Processo número 09-P-24576/2018. Doação do acervo Professor Etienne Samain para Biblioteca - IFCH.
1 É professor titular aposentado do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), tendo atuado no Programa de Pσs-Graduação em Multimeios.
2 Artigo assinado, também, por Fabiana Bruno, autora do trabalho de conclusão de Mestrado (2003) intitulado Retratos da Velhice. Um duplo percurso: metodológico e cognitivo. Pesquisa que, logo, se prolongou em um doutorado (sob a mesma orientação): Fotobiografia: por uma metodologia da Estética em Antropologia visual que defenderá em 2009, e que merecerá o prêmio de melhor tese de doutorado Capes-2009.
3 Desde 1986, a ideia de problematizar e de organizar, num livro, temáticas referentes ao estudo da fotografia me perseguia. Era efetivamente um empreendimento audacioso tanto quanto amplo: reunir autores brasileiros e estrangeiros, utilizar seus talentos e conhecimentos variados e oferecer, deste modo, à comunidade acadêmica algo diferente. Nada era simples, sobretudo, na medida em que os autores não eram necessariamente pontuais e as traduções exigiam tempo e que os recursos não caíam do céu. Com tiragem de 2000 exemplares o livro esgotou-se apenas dois anos após seu lançamento (1998), o que significa que respondia, pensamos, a uma expectativa acadêmica brasileira. Numa coedição Hucitec e Senac, o livro mereceu duas outras edições, a partir de 2005. Está atualmente esgotado.
4 Antropólogos e fotógrafos que, entre eles, sabem, por vezes, se odiar profundamente, cada um reivindicando o seu monopólio no ato de olhar e no da observação. Os primeiros exigem um status acadêmico e uma formação antropológica séria; os outros reivindicam, com razão, uma qualidade estética (por vezes, um tanto narcisista).
5 Em parceria com João Marinho de Mendonça que, em abril de 2005, defendia (sob a minha orientação) sua tese de Doutorado sobre a temática "Pensando a visualidade no campo da Antropologia. Reflexões e usos da imagem na obra de Margaret Mead", um amplo e preciso trabalho que mereceria ser publicado.
6 Apresenta-se como uma longa apresentação crítica da obra pioneira da antropologia visual, Balinese Character de Gregory Bateson e de Margaret Mead. Apresentação que acompanha o primoroso livro Os Argonautas do Mangue. São Paulo: Editora Unicamp e Imprensa Oficial, 2004, de André Alves, orientado por mim em seu mestrado.
7 Autores já estavam desenvolvendo essa nova vertente da Antropologia, entre eles Michel Maffesoli, Pascal Lardellier e, sobretudo, Yves Winkin, de quem organizei dois dos seus livros, publicados em língua francesa, sob o título Winkin, Yves. A Nova Comunicação. Da teoria ao trabalho de Campo. Campinas, Papirus, Editora, 1998, 218 pp.
8 Recebo a informação de que a terceira impressão de 1000 exemplares acabou de sair.
Texto em pdf:
https://expo.ifch.unicamp.br/pf-expo/public-files/exposicao/148/texto-p…
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________